David Rodrigues

“A normalidade causou-me sempre um grande pavor, exactamente porque é
destruidora.”
Miguel Torga, Diário IV, 1948, pp.128.
Introdução:
Neste início do século XXI parece que nunca a desigualdade entre os homens foi tão grande e não encontramos solução plausível nem previsível para injustiças e conflitos que proliferam e preenchem o nosso quotidiano de informação. Tal como aponta Wallerstein no seu livro“Historical Capitalismo” (1983) parece haver agravamentos sensíveis dos conflitos à medida que nos aproximamos do tempo presente e cada século fez mais vitimas devido a guerras que o século anterior.
No que respeita à justiça social a questão é igualmente difícil: o fosso entre ricos e pobres continua a aumentar à escala nacional e internacional, os países ricos começam a muralhar-se contra a previsível entrada de estrangeiros (mais pobres) nas suas fronteiras, as periferias das grandes cidades são pungentes exemplos de exclusão. As instituições sociais defrontam-se com
novas questões de exclusão social ao nível da cidadania, do trabalho, da educação, do território e da identidade. (Stoer, Magalhães e Rodrigues, 2004)
É neste terreno controverso, desigual e crescentemente complexo que a Inclusão (seja social ou educativa) procura prevalecer. Neste aspecto, poder-se-ia dizer que quanto mais a exclusão social efectivamente cresce, mais se fala em Inclusão. O termo Inclusão tem sido tão intensamente usado que se banalizou de forma que encontramos o seu uso indiscriminado no discurso político nacional e sectorial, nos programas de lazer, de saúde, de educação etc.
Recentemente até o sistema bancário tem vindo a usar o termo: no Brasil uma instituição bancária lançou uma campanha sobre um “sistema bancário inclusivo” que busca captar contas de clientes iletrados.
Não se sabe bem o que todos estes discursos querem dizer com Inclusão e é legítimo pensar que muitos significados se ocultam por detrás de uma palavra-chave que todos usam e se tornou aparentemente tão óbvia que parece não admitir qualquer polissemia. No discurso dos “media” e do quotidiano, o conceito de Inclusão está relacionado antes de mais com não ser excluído isto é com a capacidade de pertencer ou de se relacionar com uma comunidade. Claro que existe uma normalização implícita neste conceito: o conceito da comunidade onde a pessoa se deve integrar é o de uma comunidade benigna, positiva, diversa e próspera. Não se espera que se possa
considerar incluída uma pessoa que pertence e comunica com uma comunidade fundamentalista religiosa ou com uma comunidade que faz do seu modo de vida a venda e tráfico de estupefacientes. Há assim um implícito “politicamente correto” quando se fala de Inclusão.
Sabemos, no entanto, que não é assim. As comunidades, as famílias são elas próprias estruturas complexas e que não devem ser abordadas de forma normalizada. Pensar de imediato em comunidades receptivas ou em famílias com uma estrutura tradicional é muitas vezes um mau princípio para dinamizar um processo de inclusão.
Podemo-nos perguntar: Que é então estar incluído? Como se articula a necessidade imperiosa de ter uma identidade numa comunidade restrita de pertença com a inclusão em grupos mais latos? Como se relaciona a Inclusão com a mobilidade da pessoa em diferentes grupos e contextos sociais? De que forma estar fortemente integrado num determinado contexto identitário pode ser impeditivo da pessoa participar ou se relacionar com outros contextos? A Inclusão é necessária?
E é essencial? Para quem?
E a Inclusão na Educação?
O conceito de Inclusão no âmbito específico da Educação, implica, antes de mais, rejeitar, por princípio, a exclusão (presencial ou académica) de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que pretende seguir uma política de Educação Inclusiva (EI) desenvolve políticas, culturas e práticas que valorizam o contributo ativo de cada aluno para a construção de um conhecimento construído e partilhado e desta forma atingir a qualidade académica e sócio cultural sem discriminação.
Os sistemas educativos de numerosos países mundiais têm na última década usado o termo Inclusão nos seus textos legais de Educação (como o tinham usado antes relacionado com as estruturas sociais). O que estes sistemas entendem por Inclusão serão talvez coisas diferentes.
Recentemente Wilson (2000) analisando documentos sobre a inclusão em particular provenientes do Center for Studies on Inclusive Education, indicou que o que se entende por uma Escola Inclusiva pressupõe uma escola centrada na comunidade, livre de barreiras (desde as arquitectónicas às curriculares), promotora de colaboração e de equidade.
Por outro lado, Hegarty (2003) ao confrontar os objectivos ambiciosos da EI defende que o debate inclusão/segregação tem recebido um interesse excessivo e que é sobretudo necessário investir uma verdadeira “Educação para Todos”.
A EI tornou-se assim um campo polémico por várias razões. Uma das principais é sem dúvida a contradição entre a letra da legislação e a prática das escolas. O discurso da inclusão ou “a ideologia da Inclusão” (Correia, 2003) não tem frequentemente uma expressão empírica e por vezes fala-se mais da EI como um mero programa político ou como uma quimera inatingível do que como uma possibilidade concreta de opção numa escola regular. Tanto a legislação como o discurso dos professores se tornaram rapidamente “inclusivos” enquanto as práticas na escola só muito discretamente tendem a ser mais inclusivas. Recentemente afirmamos que “é preciso não invocar o nome da Inclusão em vão” tentando “mapear” esta distância entre os discursos e as
práticas.
A investigação e a realização de projectos sobre EI permitem delinear algumas das bases sobre as quais se podem construir projectos credíveis. É a luz desta investigação e da produção empírica de conhecimento sobre a EI que vamos seguidamente analisar algumas ideias comuns (a que chamamos “ideias feitas”) disseminadas entre os professores e entre as comunidades educativas em geral. Estas afirmações podem ser organizadas, na nossa opinião, em cinco grupos conforme a sua temática: valores, formação de professores, recursos, currículo e gestão da sala de aula.
Valores
“A Inclusão é a “evolução natural” do sistema integrativo”
Muito se tem escrito sobre as diferenças entre “Integração” e “Inclusão” (Correia, 2001,
Rodrigues 2001, 2003). Afigura-se consensual que a integração pressupõe um “participação
tutelada” numa estrutura com valores próprios e aos quais o aluno “integrado” se tem que
adaptar. Diferentemente, a EI pressupõe uma participação plena numa estrutura em que os
valores e práticas são delineados tendo em conta todas as características, interesses,
objectivos e direitos de todos os participantes no acto educativo.
Pelo fato de o movimento inclusivo se ter desenvolvido após o movimento integrativo e
usando frequentemente os mesmos agentes e recursos, diz-se que a Inclusão é uma evolução
ou mesmo um novo nome da Integração. “A Integração – ou como agora se diz – a Inclusão”
é uma frase comummente ouvida.
A Inclusão não é, a nosso ver, uma evolução da Integração. Isto por três razões principais:
Em primeiro lugar a Integração deixou intocáveis os valores menos inclusivos da escola. Não
foi por causa da Integração que o insucesso ou o abandono escolares diminuíram ou que
novos modelos de gestão da sala de aula surgiram. A Integração criou frequentemente uma
escola especial paralela à escola regular em que os alunos que tinham a categoria de
“deficientes” tinham condições especiais de frequência: aulas suplementares, apoio
educativo, possibilidade de estender o plano escolar de um ano em vários, condições
especiais de avaliação, etc.
Em segundo lugar, a escola Integrativa separava os alunos em dois tipos: os “normais” e os
“deficientes”. Para os alunos “normais” era mantida a sua lógica curricular, os mesmos
valores e práticas; para os “deficientes” seleccionava condições especiais de apoio ainda que
os aspectos centrais do currículo continuassem inalterados. A escola Integrativa “via” a
diferença só quando ela assumia o carácter de uma deficiência e neste aspecto encontrava-se
bem longe de uma concepção inclusiva
Em terceiro lugar, o papel do aluno “deficiente” na escola integrativa foi sempre
condicionado. Era implícito ao processo que o aluno só se poderia manter na escola enquanto
o seu comportamento e aproveitamento fossem adequados. Caso contrário poderia sempre
ser “devolvido” à escola especial. Assim o aluno com dificuldades não era um membro de
pleno direito da escola mas tão só uma benesse que a escola condicionalmente lhe outorgava.
Assim, quando se fala de escola Integrativa trata-se de uma escola que em tudo semelhante a
uma escola tradicional em que os alunos com deficiência (os alunos com outros tipos de
dificuldades eram ignorados) recebiam um tratamento especial. A perspectiva da EI é sim
bem oposta à da escola tradicional e integrativa ao promover uma escola de sucesso para
todos ao encarar os alunos como todos diferentes e necessitados de uma pedagogia
diferenciada (Perrenoud, 1996) e cumprindo o direito à plena participação de todos os alunos
na escola regular.
“A Educação Inclusiva é para alunos “diferentes”” A noção de “diferença” tem baseado muito do discurso moderno sobre a diferenciação pedagógica . Perrenoud (1996) fala mesmo dos alunos com “pequenas” e “grandes” diferenças. Apesar do termo “alunos diferentes”ser abundantemente usado, isso não significa que ele tenha um entendimento claro. Frequentemente o termo “diferente” é usado como um “alter nomine” de “deficiente” (sinalização de um qualquer problema num aluno). Tal como no período integrativo existiam os “deficientes” e os “normais” encontramos agora os “diferentes” e os “normais”. Mas o que é afinal ser diferente? E diferente de quê?
É conhecida a dificuldade de traçar uma fronteira clara entre a deficiência e a normalidade. Em casos de pessoas com deficiência intelectual é muito difícil diferenciar uma pessoa com
deficiência intelectual com um alto funcionamento de uma outra sem deficiência intelectual
com um baixo funcionamento cognitivo. O que parece obvio é que as capacidades humanas
(sejam cognitivas, afectivas, motoras ou outras) se distribuem num continuum no qual são
apostas fronteiras e critérios que são socialmente determinados. Um exemplo do carácter
aleatório destas fronteiras é a variedade de classificações da deficiência intelectual nos
diversos estados dos Estados Unidos que pode levar que o mesmo indivíduo seja considerado
como tendo deficiência num estado e sem deficiência num estado vizinho. Ser diferente é
assim, na acepção comum viver numa sociedade que cujos valores consideraram
determinadas características da pessoa como merecedoras de serem classificadas como
deficiência ou dificuldade.
Mas o certo é que a diferença não é estruturalmente dicotómica isto é não existe um critério
generalizado e objectivo que permita classificar alguém como diferente. A diferença é antes
de mais uma construção social historicamente e culturalmente situada. Por outro lado,
classificar alguém como “diferente” parte do principio que o classificador considera existir
outra categoria que é a de “normal” na que ele naturalmente se insere.
Quando dizemos que a EI se dirige aos alunos diferentes, acabamos por encarar todas estas
questões. Sabemos que não são só diferentes os alunos com uma condição de deficiência:
muitos outros alunos sem condição de deficiência identificada não aprendem se não tiverem
uma atenção particular ao seu processo de aprendizagem. Heward (2003) afirma que o facto
dos alunos serem todos diferentes não implica que cada um tenha que aprender segundo uma
metodologia diferente; isto levar-nos-ia a uma escola impossível de funcionar nas condições
actuais. Significa, no entanto, que se não proporcionarmos abordagens diferentes ao processo
de aprendizagem estamos a criar desigualdade para muitos alunos.
O certo é que não só os alunos são diferentes mas os professores são também diferentes e ser
diferente é uma característica humana e comum e não um atributo (negativo) de alguns. A EI
dirige-se assim aos “diferentes” isto é a… todos os alunos. E é ministrada por “diferentes”
isto é… todos os professores.
Formação de Professores
“A formação para a EI é durante o período da formação inicial”
Em muitos países a começaram a ser integrados no currículo de formação inicial de
professores e educadores disciplinas respeitantes às “Necessidades Educativas Especiais” ou
designações afins. Esta inovação (recordo a título de exemplo a prática em Portugal onde
esta formação é obrigatória por lei desde 1987) é sem dúvida importante por poder vir a
familiarizar o futuro professor com o conhecimento de situações prováveis que, face à
crescente inclusão de alunos com NEE nas escolas regulares, ele poderá vir a enfrentar. Se
esta formação é já tão frequente porque continuamos a escutar queixas de professores sobre a
sua falta de formação para atender alunos com dificuldades nas suas aulas?
Levantam-se duas questões neste âmbito:
Uma ligada às características complexas da profissão de professor. Um professor não é um
técnico (no sentido de aplicar técnicas relativamente normalizadas e previamente conhecidas)
nem é um funcionário (isto é, uma pessoa que executa funções enquadrado por uma cadeia
hierárquica perfeitamente definida). A profissão de professor exige uma grande versatilidade
dado que se lhe pede que aja com uma grande autonomia e seja capaz de delinear e
desenvolver planos de intervenção em condições muito diferentes. Para desenvolver esta
competência tão criativa e complexa não basta uma formação académica; é necessária
também uma formação profissional (Campos, 2002).
Não podemos esquecer quais foram os interesses que esse conhecimento serviu: o
conhecimento antropológico da organização e forma de viver das tribos africanas serviu para
informar a desgraçada partilha de Africa entre as potencias coloniais, cujos efeitos perversosque ainda hoje se fazem sentir. O conhecimento da diferença não é sempre positivo; podemos conhecer para melhor segregar. Regressando ao domínio da Educação constatamos que, se a ênfase na formação de professores for dada na diferença e nos casos mais profundos, acabamos por proporcionar (ainda que com boas intenções…) um argumento para que o jovem professor avalie a sua futura tarefa como quase inultrapassável e até a rejeitar a inclusão de alunos com
dificuldades devido exactamente ao conhecimento que tem das reais dificuldades que esses
alunos têm.
Pensamos que a formação deve ser feita em termos das deficiências mais ligeiras (a
esmagadora maioria dos casos que surgem nas escolas regulares) e que todo o conhecimento
da diferença seja integrado numa compreensão da diversidade humana que vai das altas
habilidades até à deficiência e dando a noção que os casos muito difíceis são uma minoria e
que na grande maioria as dificuldades são discretas e leves.
Assim, conhecer as diferenças sim mas para promover a inclusão e não para justificar a
segregação. Conhecer as diferenças mais comuns que são certamente as mais numerosas.
Enfim não dar a conhecer a diferença como se se tratasse de uma situação médica mas fazer
acompanhar cada caracterização de indicações pedagógicas que contribuam para que o futuro
professor possua um esboço de entendimento que lhe permita iniciar o seu processo de
pesquisa.
Recursos
“Os recursos são secundários. O importante é a atitude da escola e do professor”
Como Wilson (op.cit.) faz notar, a EI encontra-se impregnada de valores éticos e de morais.
Correia (2000), na mesma linha, refere-se à “ideologia da Inclusão” querendo realçar a forte
carga ideológica que é atribuída aos projectos de EI. Ao examinarmos mais de perto as suas
premissas, verificamos que existe uma “energia bondosa” na EI que poderia ser sintetizada
na frase: “Queremos que todas as crianças sejam educadas juntas, sem discriminação numa
escola livre de barreiras e ligada à comunidade”. Perante um idealismo que associa a inclusão
aos direitos humanos e à justiça social é compreensível que a força fundamental da promoção
de um tal programa repouse nas atitudes, na vontade e na ética dos professores. Para muitos
professores é atitude o aspecto fundamental para que a EI se possa desenvolver. Se hiper
valorizarmos as atitudes, outros factores, como por exemplo os recursos, podem ser menos
valorizadas. Relatamos num artigo anterior (Rodrigues 2003) a opinião de um consultor de
uma organização educativa internacional que me dizia que tinha visto em Africa verdadeira
inclusão: escolas comunitárias sem quaisquer meios, com classes muito numerosas mas onde
todas as crianças da comunidade comungavam do mesmo espaço mesmo que fosse debaixo
de uma árvore. Era o exemplo da subalternização dos recursos.
A questão a inclusão, tal como a entendemos em sociedades modernas pode ser promovida
em escolas e sistemas educativos desprovidos de recursos? Na nossa opinião não. A Inclusão
tem de constituir uma resposta de qualidade para poder, por exemplo, constituir uma
alternativa séria às escolas especiais. Uma escola inclusiva que atenda por exemplo alunos
com deficiência mental tem que ser capaz de proporcionar, pelo menos, o mesmo tipo de
serviços da escola especial. Se não, porque irão os pais preferir a inclusão, se isso pode ter
um efeito devastador na sua qualidade de vida? Promover a Inclusão é criar serviços de
qualidade e não democratizar para todos as carências. Por isso não pensamos que seja
defensável um sistema de EI que repouse inteiramente nas atitudes mais ou menos idealistas
e éticas do professor. Sem mais recursos a chegar à escola será muito difícil que a escola seja
capaz de aumentar o seu leque de respostas. As escolas funcionam em regra muito perto do
seu limite máximo de resposta mesmo quando não adoptam modelos inclusivos. Se vamos
pedir às escolas para diversificar a sua resposta e para criarem serviços adaptados a
populações que antes nunca lá estiveram é essencial que mais recursos humanos e materiais
devam ser adstritos à escola. A EI pressupõe uma escola com uma forte confiança e
convicção que possui os recursos necessários para fazer face aos problemas.
“A EI é um sistema barato para educar todos os estudantes”
Um determinado sub sistema educativo tomou a decisão de encerrar as escolas especiais da
região e enviar os alunos que antes frequentavam esta escola para a escola regular. Esta
decisão foi muito aplaudida: poupou recursos porque a escola especial absorvia uma fatia
importante do orçamento da região, permitiu que alguns professores que estavam colocados
na escola especial pudessem regressar ao sistema regular de ensino (um factor adicional de
poupança) e ainda proporcionou uma imagem de “inclusão”. Esta decisão deu, em suma,
uma aura de modernidade porque, pelo menos aparentemente, deu passos significativos em
direcção à “moderna” EI.
Esta situação, aqui relatada como ficcional, é muito comum. Sem dúvida que o facto de
situar o esforço educativo de todas as crianças de uma dada comunidade num dado espaço
físico e pedagógico parece poder apresentar vantagens ao nível económico. Num estudo que
estamos em vias de completar em que são comparados dois modelos de atendimento, um de
inclusão e outro de escola especial, constatamos que as verbas dispendidas pelo modelo
inclusivo são significativamente inferiores aos dispendidos pela escola especial. Apesar de
este poder ser um dos “resultados colaterais” da inclusão, ela não deve ser pensada nestes
termos. A escola regular se quiser ser capaz de responder com competência e com rigor à
diversidade de todos os seus alunos necessita de recrutar pessoal mais especializado
(terapeutas, psicólogos, trabalhadores sociais, etc.) e necessita de dispor de equipamentos e
recursos materiais mais diferenciados. Enfim, necessita ser uma “organização diferenciada de
aprendizagem” que ofereça a garantia às famílias e encarregados de educação que os mesmos
serviços que eram proporcionados pela escola especial podem continuar a estar disponíveis.
Só desta forma a escola regular se torna verdadeiramente concorrente e uma alternativa à
escola especial porque além de proporcionar um elenco de recursos humanos semelhante e
um conjunto de recursos materiais equivalente, dá acesso a uma experiência de educação
integrada com jovens sem deficiência e em ambientes mais ricos e diversificados.
Talvez a EI seja um sistema mais barato mas não é por aí que as opções devem ser feitas.
Encerrar escolas especiais não pode significar “lançar” jovens com necessidades especiais
para uma escola regular que foi criada e desenvolvida na perspectiva da ignorância da
diferença. Neste aspecto a EI não é uma educação em saldo é pelo contrário, um sistema
exigente, qualificado, profissional e competente. Estas características fazem da EI um
sistema caro. Mas se a EI é cara, é melhor não querermos saber o preço da exclusão…
Currículo
“A diferenciação do currículo é tarefa do professor”
A proposta pedagógica da EI passa claramente pela oferta de oportunidades de aprendizagem
diversificadas para os alunos. Se a “diferença é comum a todos” e assumimos a classe como
heterogénea é importante responder a essa heterogeneidade em termos de estratégias de
ensino e aprendizagem. Por outro lado, sabemos que o processo de aprendizagem não é uma
simples transmissão de informação mas antes uma transição entre diferentes paradigmas de
conhecimento. Podemos assim dizer que uma escola que não diferencia o seu currículo não
usa modelos inclusivos e forçosamente não promove a igualdade de oportunidades entre os
seus alunos. Cabe aqui notar que a diferenciação a que nos referimos é no âmbito de uma
escola comum a todos os alunos e não a perspectiva histórica de diferenciação curricular que,
como nota Roldão (2003), era uma forma de sancionar a estratificação social através do
currículo escolar.
Quando se aborda a necessidade da diferenciação curricular é comum atribuir essa
responsabilidade ao professor. Os professores “inclusivos” fazem-na e os professores
“tradicionais” mantém-se em modelos não diferenciados. Mas será que uma responsabilidade
tão decisiva pode ser exclusivamente atribuída a um professor individual? Parece-nos que
não por duas razões:
Em primeiro lugar a escola é uma estrutura com uma inércia organizacional de dimensão
considerável. Comecemos pela realidade “classe”. Os alunos são agrupados aleatoriamente
em grupos (turmas ou classes) que permanecem estáveis ao longo de vários anos. Este
agrupamento “classe” se não for desmembrado em função das actividades, do nível dos
alunos, dos projectos, etc. torna-se um constrangimento e uma limitação dado que é um
grupo artificial e aleatório de aprendizagem. Por vezes, o maior ou menor sucesso dos alunos
na escola depende deste mecanismo puramente aleatório: se estivesse numa outra classe o
sucesso do aluno poderia ser completamente diferente. Por outro lado, horários, espaços,
equipamentos, materiais, etc. representam importantes constrangimentos para realizar uma
diferenciação curricular e que não são possíveis de remover por uma vontade solitária.
Em segundo lugar a diferenciação do currículo é uma tarefa da escola no seu todo. É a
coesão do colectivo “escola” que pode incentivar a confiança para desenvolver projectos
inovadores e que permite ao professor assumir riscos. É indubitável que a dinâmica da EI
repousa muito sobre a iniciativa, os valores e a práticas de inovação do professor; mas não
parece correto afirmar que é pela sua única vontade que a diferenciação do currículo se pode
realizar. Ben Peretz (2001) afirma que a tarefa do professor num mundo em mudança é
praticamente impossível devido às dimensões dos desafios que lhe são colocados: o trabalho
multidisciplinar, a globalização a profissionalidade, etc. A “missão impossível” do professor
é antes de mais impossível se ele estiver sozinho. A diferenciação do currículo é uma tarefa
do colectivo da escola e engloba mais do que a gestão da sala de aula: implica uma abertura
para uma nova organização do modelo de escola.
“A EI valoriza o “currículo social””
Historicamente os alunos com necessidades educativas especiais que frequentavam escolas
especiais tinham um currículo essencialmente baseado nas suas áreas de dificuldade no que
poderíamos designar por um currículo terapêutico ou habilitativo. Esta concentração no
“modelo do défice” originou uma concepção restrita e estreita do currículo e tem sido
apontada como responsável por privar os alunos de oportunidades de aprendizagem que os
poderiam capacitar assumir uma maior autonomia. A excessiva centração nas capacidades
em “défice” retirou o enfoque às áreas que poderiam ter sido mais trabalhadas para a
autonomia.
A EI incentivou a adopção de outros modelos curriculares menos centrados no défice e que
proporcionassem uma abordagem mais flexível e que pudesse abranger todos os alunos
(Costa e Rodrigues, 1999). Este modelo curricular alargado, com enfoque na inclusão social,
na interacção entre os alunos e no desenvolvimento da autonomia, (que por vezes é
designado por “modelo “guarda-chuva”) tem sido desenvolvido no espírito da inclusão e tem
recolhido aprovação de pais e professores.
Estes dois modelos têm sido apresentados como opostos quando, na nossa opinião, não o são.
Parece indubitável que é necessário planear e desenvolver tipos de intervenção específicos
face a problemas concretos de aprendizagem. Foram desenvolvidas ao longo de muitos anos
estratégias e metodologias de intervenção destinadas a problemas específicos de
aprendizagem que seria insensato pura e simplesmente deitar fora em nome da “Inclusão”.
Metodologias como a análise de tarefas, a modificação cognitiva do comportamento, a
modificação do comportamento, os diversos métodos de reeducação da leitura, etc. são
instrumentos fundamentais para que o aluno com determinados tipos de necessidades possa
encontrar respostas pedagógicas adequadas.
Assim, ainda que o desenvolvimento de projectos de EI tenha dado realce a um currículo
mais “social”, temos que ter presente que não podemos desperdiçar o conhecimento que se
veio a acumular e que está constantemente a ser produzido e que nos informa sobre
intervenções mais especializadas e que podem em muitos casos permitir a aprendizagem.
Estas duas componentes curriculares devem ser consideradas de modo a que não só a
interacção com os outros e o desenvolvimento de competências sociais seja realizado mas
também que o conhecimento que dispomos sobre a aprendizagem em certos tipos de
dificuldades seja usado a favor de um processos de aprendizagem bem sucedido.
Gestão da sala de aula
“Não é possível desenvolver práticas inclusivas em classes com 25 ou mais estudantes”
O número de alunos por turma é recorrentemente enunciado como um obstáculo ao
desenvolvimento de práticas inclusivas. Se a regra é levarmos em conta a diferença do aluno
e adaptarmos o ensino as possibilidades, modalidades e ritmos de cada um, então como será
possível que um único professor desenvolva este trabalho para, por exemplo, 25 alunos?
Posto desta maneira parece uma barreira intransponível.
Bom, mas qual é o conceito que se tem de “atender especificamente as necessidades de cada
aluno”? Frequentemente é uma perspectiva de ensino individual. Nesta perspectiva, um
professor só pode atender as necessidades de um aluno se estiver sozinho com ele. Esta ideia
apesar de muito disseminada é errada. O ensino pode ser individual e não levar em conta as
especificidades do aluno e pode ser em grupo e considerar essas especificidades. Em textos
anteriores (Rodrigues 1986,2001) defendemos que a gestão de uma sala de aula inclusiva
pressupõe que os alunos possam ter acesso a vários tipos de grupos de aprendizagem: grande
grupo (que pode determinar o contrato, os fundamentos e a missão da aprendizagem) grupos
de projecto, grupos de nível, trabalho em pares e trabalho individual. Todos estes
enquadramentos permitem, que as situações de aprendizagem sejam adequadas às diferentes
características do aluno e do trabalho. Desenvolver uma gestão de sala de aula inclusiva não
pressupõe, pois, um trabalho individual mas sim o planeamento e a execução de um
programa em que os alunos possam compartilhar vários tipos de interacção e de identidade.
Ainda sobre este aspecto, há também tendência para fazer crer que, quando um aluno com
graves dificuldades é incluído numa turma “regular”, é ele que é o cerne dos problemas para
o professor. “Tenho uma turma de 22 alunos e um deles tem Trissomia 21. Que hei-de
fazer?”. A questão é que se continua a encarar os 22 alunos como “normais” isto é como iguais uns aos outros como uma fotocópia e só há um diferente – o aluno com T2. É importante incentivar os professores a olharem para toda a turma (neste caso para os 23 alunos) como alunos diferentes e pensar que o aluno com T21 pode muito bem compartilhar
sessões de aprendizagem com colegas em qualquer um dos enquadramentos que citamos
acima. Esta aproximação poderá beneficiar, sem dúvida, alunos com dificuldades escolares
mas que pelo facto de não terem uma condição de deficiência identificada não dispõem de
uma pedagogia apropriada às suas dificuldades.
“É mais fácil encontrar qualidade nas classes homogéneas”.
O debate sobre a qualidade em Educação é extremamente actual. Em nome da qualidade da
educação tomam-se decisões, anulam-se outras, criam-se e extinguem-se serviços. A
qualidade surge como um conceito inquestionável e que tem o mesmo significado para todos.
Mas, em Educação, não podemos esquecer que existem interesses (frequentemente)
conflituais e que ambos os lados podem desfraldar a bandeira da qualidade para se autojustificarem.
Por exemplo, o que é qualidade para um professor pode não o ser para os pais
dos alunos ou ainda para a gestão da escola. Falar em qualidade não resolve o problema:
levanta é – pela complexidade do conceito – outros problemas. Frequentemente é preciso
optar por investimentos em determinadas áreas da Educação que consideramos serem mais
importantes para a sua qualidade. Por exemplo para os pais de um aluno com uma condição
de deficiência pode ser considerada uma prática de qualidade elevada um programa que lhe
permita interagir e brincar com colegas do seu filho sem deficiência. Para os professores um
programa semelhante pode não ter qualquer relevância porque o aluno continua em dominar
os conteúdos académicos básicos.
A EI, como vimos antes, assume que os alunos são diferentes e heterogéneos.
A questão é que, se entendermos qualidade enquanto preparação para enfrentar com
conhecimento e sucesso as situações sociais, que tipo de programas poderíamos incentivar?
Parece que aqueles com que o aluno tem desde a fase escolar um contacto maior com
situações heterogéneas, contraditórias e mesmo conflituais em que é necessário desenvolver
aptidões de negociação, estabelecer plataformas de acordo e usar aptidões sociais. São estes
ambientes escolares inclusivos que parecem mais semelhantes como os ambientes sociais
cada vez mais controversos e conflituais que o aluno vai encontrar na sua vida pessoal e
profissional.
Assim a qualidade na educação encontra-se mais facilmente ligada a classes heterogéneas do
que a classes homogéneas na medida em que estas, pela suas maiores diferenças aparentes,
são mais isomorfas com as situação sociais complexas. Se a educação de qualidade é a que
melhor prepara para lidar com as situações sociais ecologicamente válidas então é a EI que
melhor permite que o aluno tenha acesso a esse património de experiência.
Síntese:
Falar de inovação no campo da Educação é um assunto bem complexo.
A escola pública foi criada com objectivos de proporcionar aos alunos uma formação final
com um níveis semelhante e usando estratégias uniformes.
Considerar as diferenças intra-individuais dos alunos foi também sempre estranho à escola
tradicional. Por isso parecem tão radicais e estranhas as propostas de inovação da escola
feitas pela EI. A EI, questiona alguns dos fundamentos e das práticas mais arreigadas da
escola tradicional: questiona o carácter selectivo da escola, a homogeneidade dos seus
métodos de ensino e ainda o facto de não ser sensível aos que os alunos são e querem.
Perante uma tão grande distância entre o que a escola é e o que – por determinação legal – se
pretende que ela seja, é natural que se tenham desenvolvido discursos e axiomas que
procuram “simplificar” ou “explicar” o que deve ser feito para construir uma Educação mais
Inclusiva. São por vezes essas as ideias (mal) feitas que contribuem para sedimentar valores e
práticas que não se aproximam da Educação Inclusiva.
Mas se estas são algumas das ideias (mal) feitas o que serão então ideias (bem) feitas?
Apesar do tom opinativo e afirmativo deste texto, nós próprios temos muitas dúvidas sobre se
existe um caminho inequivocamente certo. Talvez o mais adequado seja pensarmos que as
ideias bem feitas deverão provir de práticas corajosas, reflectidas e apoiadas. Talvez estas
ideias e práticas, por mais bem pensadas e feitas que sejam, não nos conduzam
inexoravelmente a uma EI. Mas por certo nos vão ajudar a vê-la cada vez mais perto e desta
forma promover a justiça e os direitos para todos os alunos.
Referências:
Ben-Peretz, M. (2001) “The impossible role of teacher educators in a changing world”, Journal
of Teacher Education, 52, 1. 48-56
Campos, B.P. (2002) “Políticas de Formação de Profissionais de Ensino em Escolas
Autónomas”, Edições Afrontamento, Porto
Correia, J.A. (2003)”A Construção Politico-cognitiva da Exclusão Social no Campo Educativo
in: David Rodrigues (Org.) “Perspectivas sobre a Inclusão; da Educação à Sociedade”,
Porto Editora, Porto.
Correia, L.M. (2001) “Educação inclusiva ou Educação Apropriada?” in: David Rodrigues
(Org.) “Educação e Diferença: valores e práticas para uma Educação Inclusiva”, Porto
Editora. Porto
Costa, A. Rodrigues, D. (1999) “Special Education in Portugal”, European Journal of Special
Needs Education, 14 (1), 70-89.
Hamre,B.,Oyler,C. (2004) “Preparing Teachers for Inclusive classrooms. Learning from
collaborative inquiry group”, Journal of Teacher Education, 55, 2, 154-163
Hegarty, S. (2003). “Inclusion and Education for All: Necessary Partners”. In: Vivian Heung e
Mel Ainscow (edt.) “Inclusive Education: A Framework for Reform”,The Hong Kong
Institute of Education.
Heward, W. (2003) “Ten Faulty Notions About Teaching and Learning That Hinder the
Effectiveness of Special Education”, The Journal of Special Education, 36 (4), 186-205
Perrenoud, P (1996) “La pedagogie à l’école des différences», ESF, Paris
16
Rodrigues,D. (1985) « A Aprendizagem individualizada num grupo de multideficientes »,
Horizonte, 1(5), 75-82.
Rodrigues, D. (2001) “A Educação e a Diferença”, in David Rodrigues (Org.) “Educação e
Diferença: valores e práticas para uma Educação Inclusiva”, Porto Editora. Porto
Rodrigues, D. (2003) “Educação Inclusiva: as boas e as más notícias”, in: David Rodrigues
(Org.) “Perspectivas sobre a Inclusão; da Educação à Sociedade”, Porto Editora, Porto.
Roldão, M.C. (2003) “Diferenciação Curricular e Inclusão”, in: : David Rodrigues (Org.)
“Perspectivas sobre a Inclusão; da Educação à Sociedade”, Porto Editora, Porto.
Stoer, S., Magalhães, A., Rodrigues, D. (2004) “Os lugares da Exlusão Social”, Cortez Editores,
S. Paulo
Wallerstein, I. (1983) Historical Capitalism. Londres: Verso.
Wilson, J. (2002) “Doing justice to Inclusion”; European Journal of Special Needs Education,
15(3), 297-304.
Achei esse estudo muito bom e quero que vocês leiam,pois é simplesmente tudo!
http://http://redeinclusao.web.ua.pt/files/fl_47.pdf

















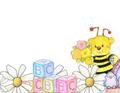


































.gif)












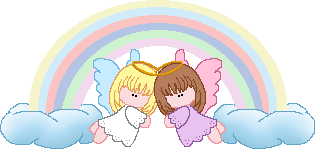.gif)







Nenhum comentário:
Postar um comentário